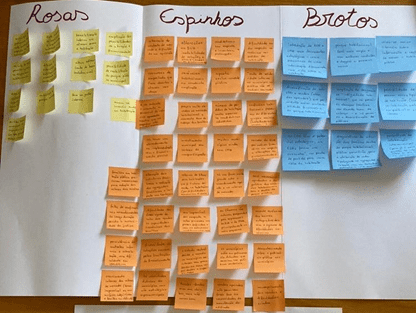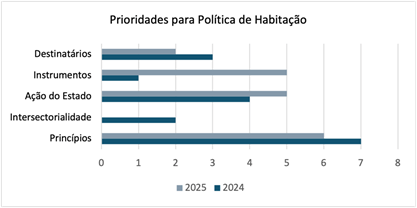Por: Maria Inês Antunes
Em setembro de 2024, com 3 anos, a minha filha Alice fez-me repensar todo o sistema alimentar para tentar encontrar a razão para os humanos só beberem leite de herbívoros (vaca, ovelha, cabra, burra e búfala) na cultura ocidental. A primeira razão que considerei foi o valor nutricional, mas essa explicação cai por terra quando consideramos o facto de que o leite de porca é bastante rico em gordura e proteína (mais até do que o de vaca). Um conjunto diversificado de factores podem influenciar esta decisão: as glândulas mamárias das porcas são diferentes das da vaca e isso faz com que as máquinas usadas hoje em dia para extracção do leite sejam inúteis; tirar leite manualmente às porcas seria impraticável (em pequena escala há pelo menos dois relatos de ordenha manual de porcas: um nos Países Baixos, para se tentar produzir queijo a partir do leite, e outro na China, para se tentar comprovar o valor nutricional do leite); a porca produz menos quantidade de leite em cada lactação; o porco produzido actualmente é, regra geral, para consumo de carne; o porco é um animal rejeitado para consumo em algumas religiões e grupos sociais.
O que têm estas razões em comum? Uma visão economicista e, por isso, utilitarista do porco.
Da coisificação à categorização: a invisibilização como resposta
De acordo com Cole e Stewart (2014: 16), os “animais não-humanos são primeiramente definidos e categorizados de acordo com o tipo de relação que têm com os humanos”. De uma forma simplista, podemos dizer que existem três categorias de animais de acordo com a sua utilidade para os humanos: os animais de companhia, os animais para consumo (seja como alimento, para entretenimento ou para experimentação) e os animais selvagens.
Os humanos são expostos desde a infância a imagens do porco enquanto alimento, perpetuando a coisificação do animal, a manutenção da hierarquia entre humano e porco e a categorização do porco enquanto animal para consumo.
DeMello (2012: 12) explica que, desde a revolução neolítica, os humanos trabalham com os animais. Milhares de anos após a domesticação do cão enquanto parceiro de caça, os grandes ruminantes passaram a ter um papel essencial nas sociedades humanas, enquanto fonte de trabalho, carne e leite.
Hoje em dia, o porco é dos animais mais usados em todas as áreas da sociedade, desde alimentação (humana e animal), cosmética, roupa e acessórios, cerâmica, medicina (tanto em investigação como medicação), lubrificantes e até explosivos.
Tal como acontece com muitas outras espécies, existe em todas as áreas uma invisibilidade do porco, que se torna, como disse Carol J. Adams (2010), um ‘referente ausente’ (“o ‘referente ausente’ é aquilo que separa o comedor de carne do animal e o animal do produto final”, tradução livre da autora).
Apesar de não utilizarmos em português outra palavra para o designar (como em inglês passamos de ‘pig’ para ‘pork’), muitas vezes o porco é representado por uma parte do seu corpo (‘pezinhos’ ou ‘túbaros’), por um corte ou confecção específica de uma parte do seu corpo (‘torresmo’, ‘presunto’ ou ‘toucinho’) ou por denominações puramente culinárias que retiram totalmente o animal do imaginário (‘gelatina’, ‘salsicha’ ou simplesmente ‘carne’ sem qualquer detalhe sobre a espécie animal).
Esta invisibilidade do animal é referida por alguns autores como uma contradição e é chamada “paradoxo da carne”. Aqui foi ilustrada de uma forma prática por um jornalista que decidiu dedicar alguns anos de vida a aprender a ser cozinheiro profissional: “(…) as pessoas não querem saber exactamente o que é a carne. Para o meu vizinho (e os meus amigos, e também para mim, durante a maior parte da minha vida), a carne não é carne, mas uma abstracção. As pessoas não pensam no animal quando usam a palavra: pensam num elemento de uma refeição” (Bufford, 2012).
A carne assumiu um estatuto simbólico na cultura ocidental e, por isso, não é surpreendente a forma como as crianças vão também integrando estas invisibilidades (Policarpo et al., 2018: 207).
Cultura popular e infância: novas formas de invisibilização
Às crianças é ensinado que devem sentir empatia pelo outro, mas para isso acontecer é necessária compreensão, evitando a antropomorfização. Isso pode explicar porque é que mesmo existindo empatia da parte de quem é espectador assíduo da personagem Porquinha Peppa, seja adulto ou criança, existe uma total dissonância cognitiva criada por essa antropomorfização da porca (Figura 1).
Segundo Policarpo et al. (2018: 212, tradução livre da autora), “Uma ligação emocional próxima com os animais é encorajada em tenra idade (através de peluches fofinhos, representações engraçadas em personagens de filmes e outros elementos da cultura popular)”. No entanto, o animal continua a ser um ‘referente ausente’, na medida em que as crianças acompanham um animal antropomorfizado que se comporta como elas, como é o caso da Peppa. Dessa forma, os espectadores não precisam de fazer nenhuma associação ao comportamento natural dos porcos, porque na realidade a Peppa representa-os a eles: humanos-espectadores.

Figura 1 Alice a ler um livro da Porquinha Peppa (Maio, 2023, foto da autora)
Neste episódio em particular, Peppa prepara, juntamente com o seu irmão e pai, uma gelatina para oferecer à mãe que esteve o dia todo a trabalhar. O episódio termina com a imagem da Peppa e sua família a comer a gelatina. Ao omitir-se a origem da gelatina, que é tradicionalmente de origem animal, a maior parte das vezes de porco, cria-se uma desconexão identitária: uma gelatina é “só” uma gelatina, independentemente de ser originária de um porco, isto é, a espécie destas personagens infantis. Tem lugar desta forma uma omissão intencional – a que Eisner (1985) chama “currículo nulo” – e que apresenta os alimentos no seu estado final (como vão ser consumidos), sem existir uma apresentação de como a indústria agroalimentar e todas as actividades inerentes funcionam, impedindo as crianças de aprender sobre estes temas.
Esta representação está presente tanto em desenhos animados como na literatura infantil. Cole e Stewart (2014: 21) explicam que para os leitores mais novos a incongruência não existe, pois já estão habituados a esta negação (ou omissão) e isso já decorre com naturalidade, não sendo na maioria das vezes questionada. Há, no entanto, um horizonte de esperança. Quando as crianças crescem numa cultura de empatia para com todas as espécies, começam elas mesmas a questionar. Questões essas que são muitas vezes incómodas para os adultos. Compete-nos a nós, adultos, ter a coragem de lhes dar uma resposta.
Maria Inês Antunes desenvolve iniciativas na área da sustentabilidade alimentar, através do seu projecto Kitchen Dates, e é aluna do curso de pós-graduação Animais e Sociedade do ICS-ULisboa, coordenado por Verónica Policarpo. Este texto foi produzido no âmbito do módulo Animais, Representações e Narrativas, sob a coordenação de Jussara Rowland. mipantunes@gmail.com